Às favas com o respeito à opinião alheia.
Porque tem hora que cansa né. O cara defeca pelos dedos, escreve num tom de quem espera receber um Nobel, teoriza sobre o brilho da supernova e não sabe diferenciar uma anã branca de outra vermelha. Em tempos de Google e Wikipedia? Informação a um clique de distância, e o cara se permite publicar merda na internet. Num veículo que a gente tá levando a sério. Todo mundo percebe a imensa cagada. Mas os mais velhos olham pro sujeito, como se ele tivesse feito alguma tolice, passam a mão na cabeça dele e dizem: “Olha, tão bonitinho ele jogando a papinha no ventilador!”
Aí eu mando se foder, né. Internamente. Porque como eu sou um cara muito educado, escrevo e publico apenas: “Olha, sei não, mas isso aí é um monte de BOBAGEM, acho que não é bem assim”. Tá. Eu fui um pouco mais irônico que isso. Mas foi porque eu escrevi “bobagem”, ó horror dos horrores. Eu disse que um argumento bobo era.. bobo. E aí todo mundo me olhou como se eu tivesse cuspido na cara da minha mãe. Porque aparentemente não respeitar a opinião dos outros, mesmo que ela seja a mais idiota possível, é a coisa mais feia que alguém pode fazer nessa vida. É quase como mijar no altar de um templo no meio da celebração de um ritual. “Mais respeito com a opinião dele, seu imundo”, gritam os sacerdotes o seu dogma.
Depois ninguém entende porque todo mundo odeia jornalista. É muito simples. O cara passa a vida toda estudando a dinâmica dos corpos celestes, dialoga com Newton, Copérnico, Galileu, Kepler e daí pra cima. Escreve teses, apresenta trabalhos, faz experiências, critica, é criticado, produz conhecimento. Aí vem o jornalistazinho, pesquisa sobre o mesmo assunto durante dois dias, dialoga com Google, Wikipedia, Superinteressante e escreve um texto contrariando tudo o que o especialista já disse sobre a dinâmica dos corpos celestes. E é mais lido. E fala como se tivesse absoluta certeza. E sequer LEVA EM CONSIDERAÇÃO que tenha gente mais gabaritada que ele pra falar daquilo. Aí é de foder, né.
Não dá pra confiar em (mau) jornalista não. Menos ainda em projeto de jornalista que já começa com os vícios e a arrogância da profissão. Porque, porra, se tu vai falar que pedras e aerolitos são a mesma coisa, primeiro tem que perguntar pro Seu Madruga o que ele acha sobre assunto. E não pode escrever sobre pedras e aerolitos ignorando a existência de gente como o Seu Madrugado que têm o estudo sobre esse tema como profissão. Aí o cara que fala a merda vem usar o discurso da liberdade de expressão e do respeito à opinião contrária como maquiagem da própria preguiça e preconceito sobre o tema. Como se falar bobagem em público fosse direito de jornalista no exercício do metiér.
Respeito é bom e todo mundo gosta. Mas ninguém fala o que quer impunemente. Antes de pedir respeito, bora respeitar quem já acumulou mais conhecimento que nós. Bora respeitar o leitor, que não é besta de não saber identificar um texto sem aprumo e cheio de preconceitos. Bora respeitar o assunto de que a gente está tratando, que é sempre mais complexo do que a gente pensa. E acima de tudo bora respeitar a própria inteligência, né. Eu confio de que conseguiremos ser grandes, um dia.
Mas quem ficar de preconceitozinho intelectual, quem tiver preguiça de pesquisar sobre o assunto abordado, ou não souber ouvir críticas boas ou más, guarde desde já meu desrespeito acadêmico e jornalístico. Não vale a poeira que se esconde nesse teclado.
como a roupa do rei, a motivação desse texto só os inteligentes (e os privilegiados) podem ver.

Como alimentar os filhos do seu flanelinha e barão do petróleo preferidos.

Praticamente todo proprietário de carro que eu conheço reclama de flanelinhas. Alguns até os odeiam. Argumentam que, além de terem comprado o carro, pagado todos os impostos anualmente, comprarem combustível a preços cada vez mais altos, gastarem rios de dinheiro na manutenção sempre necessária por causa das ruas esburacadas, ainda devem uma taxa arbitrária aos “donos do meio fio”, que é como se referem aos trabalhadores que vivem como guarda-carros. E ai deles se não pagarem. Corre-se o risco de ter a lataria da carranca arranhada ou coisa pior. É quase um consenso que ter carro hoje em dia no Brasil é caro e que a culpa toda é do governo, com sua sanha por impostos e deszelo com as questões referentes ao transporte (público ou privado).
Essa semana fui atacado por um spam em forma de corrente conclamando a classe média a boicotar a Petrobrás. Mostravam-se dados (sem fontes) do preço da gasolina em países da América Latina, onde o Brasil desponta como o-mais-caro-de-todos-ever, a despeito de ser auto-suficiente na produção de petróleo. Como a maquiavélica Petrobrás só quer lucrar a custa de nós, ó pobre povo brasileiro, deveríamos nos unir e mostrar nossa força contra a arbitrariedade dos preços altos. Dizia o e-mail bocó que a estratégia, se massificada, reduziria os preços dos combustíveis em todo o país, haja vista que os postos BR, sentindo no bolso a retração em suas bombas, reduziriam o preço do combustível, forçando uma queda de preços generalizada, segundo as leis de mercado. A missiva concluia, em tom de quem está prestes a ganhar um Nobel, que se o receptor reenviasse a mensagem pra 30 amiguinhos e estes pra mais 30, e assim sucessivamente, todos os problemas de quem tem carro nesse Brasilzão estariam praticamente resolvidos. Afinal, o povo unido é gente pra c*ralho.
Eu acho que sequer passou pela cabeça de quem propôs essa ideia de jerico que a alta dos preços da gasolina pode estar associada a outras causas, que não a ganância dos porcos capitalistas petrolíferos. Por exemplo, o fato de que já se tornou parte da identidade do brasileiro médio o desejo de ter um carro. Alguns podem, a maioria não. Os que podem aprendem desde cedo: “Meu filho na nossa vida é assim: a gente nasce, cresce, tem um carro, se reproduz e morre, tá?”. Aos que não podem, resta a esperança de um dia ter dinheiro e poder comprar. Porque andar de ônibus, deus me livre, é ruim, incômodo, demorado, ineficiente.
Mas é barato. MUITO mais barato. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTT) já confirmou, em setembro de 2008, que no Brasil andar de ônibus é infinitamente mais barato que andar de carro. R$1,96 é o que se gasta, em média, pra andar 7 Km de ônibus nas capitais brasileiras, enquanto o mesmo percurso pra quem vai de carro custa em média até R$4,84. Em Belém, cidade que eu conheço bem, andar de ônibus em 2008 era até mais barato que andar de moto, sempre considerado o modelo de economia no trânsito. Hoje, se houve reajuste nas tarifas do ônibus, também deve ter havido nas tarifas das motos e automóveis, o que torna a pesquisa ainda válida, principalmente pela distância abismal que existe entre os custos de um usuário de ônibus e os custos de um dono de carro. Porque a diferença entre os dois valores deve ser multiplicada pela frequência de uso dos veículos: quanto mais se usa, claro, mais se paga. Isso sem contar que a pesquisa da ANTT não leva em conta alguns “gastos extras” que quem tem carro precisa enfrentar: lavagem, flanelinhas, estacionamentos, vaga de garagem etc.
E o custo não é só do indivíduo que tem o carro. O custo é, sobretudo, social e ambiental. Mais carros significa, invariavelmente, mais poluição, maiores riscos de acidente (inclusive envolvendo quem não tem carro), trânsito caótico, barulho, estresse, queda na qualidade de vida da população como um todo. Pesquisas ao redor do mundo apontam, sem medo de errar: a solução para o trânsito das grande cidades está no transporte público eficiente. Na Europa, já deram um passo a frente: bicicletas, limpas, responsáveis e saudáveis já são os meios mais usados para determinadas distâncias. O resultado é que lá, além de cidades mais limpas e tranquilas, teremos em breve velinhos mais saudáveis, ciclistas. É claro, óbvio, evidente e cristalino que essa não é nossa realidade, e nem está perto de ser, tanto por falta de ciclovias nas ruas, quanto porque o transporte público não funciona como deveria. Mesmo Curitiba, considerada por muitos modelo de transporte público eficiente no Brasil, apresenta problemas apontados pelos usuários. É possível listar várias dificuldades enfrentados por quem depende de coletivos, seja trem, ônibus ou metrô, dependendo da cidade e da modalidade do transporte. Mesmo assim, arrisco dizer que na maioria das situações, para a maioria das pessoas, é possível, sim, substituir o carro pelo ônibus, nem que seja por um ou dois dias da sua semana. Muitas pessoas não fazem isso por alguns motivos:
1) Não veem necessidade, já que não entendem a relação entre os problemas da cidade e o seu pobre fusquinha envenenado.
2) Inércia. Aprenderam a se locomover com carro, se acomodaram, simplesmente não sabem qual ônibus pegar pra ir aos lugares e têm preguiça de aprender.
3) Medo da violência, esquecendo que dentro de um carro, e dependendo do carro, são tão ou mais alvos de assaltos e sequestros, que alguém sentado de bobeira no ônibus.
e o 4) que é o que eu mais gosto e talvez a causa primeira de tudo isso:
A mística do carro. Sim, há uma mística em torno dessa caixa de metal contorcido ambulante. Alimentada, entre outras coisa, pela mídia. Afinal, se “você é apaixonado por carro como todo brasileiro”, sabe disso. Se você foi adolescente e é homem, provavelmente já ouviu lamuriações como “se pelo menos eu tivesse um carro, teria chance com ela”., como se carros e mulheres estabelecessem uma relação direta de causa e efeito entre si. Se viveu a década de 90, ouviu a Ivete Sangalo cantar que se “quiser andar de carro velho, amor, que venha” pois andar a pé era lenha (sic). Se é mulher e tem um carro pra sair à noite com as amigas, provavelmente se sente independente e livre, completamente diferente da sua avó na sua idade, que tinha que pedir permissão pro marido até pra ir ali na esquina comprar absorvente. Se é homem, provavelmente sente o carro como uma extensão do seu pênis, algo que te deixa mais forte e invencível. Porque carro é sinônimo de liberdade, confere um status positivo. Porque quem tem um carro à sua disposição a qualquer hora do dia e da noite, acha que está exercendo melhor o seu direito de ir e vir do que quem tem que esperar o coletivo passar, lotado, sujo, devagar.
E realmente está. O problema é que essa liberdade vem da dependência a uma máquina que, como já vimos, custa caro, e muito. Para quem tem, para quem não tem, pro país e pro planeta. Ter e usar carro com frequência é um privilégio cruel. Mas quem está envolto nessa liberdade, também está, parodoxalmente, preso nela. Porque tem dificuldade de questioná-la, para perceber que seus hábitos podem ser revistos. Por isso que não me espantei, em momento algum, com o fato de que o autor do e-mail que recebi, querendo baixar o preço da gasolina, sequer pensou numa redução do consumo como um todo. Sequer pensou que o combustível tá caro porque tem muita gente comprando. E que a indústria não pensa em baixar o preço porque sabe que tem consumidores fiéis, que pagarão quanto for preciso pelo privilégio de ir ao trabalho no ar-condicionado, ouvindo música, em menos tempo. E que muito desse consumo é desnecessário e pode ser substituído por algumas passagens de ônibus ao longo da semana.
Reclamar dos preços todo mundo adora. Largar o carro, ninguém quer. Concessionárias, donos de postos, oficinas mecânicas, assaltantes de sinal e flanelinhas agradecem.

Apologia do Cecê.
 Então eu levantei a discussão de que o mau-cheiro também é uma construção cultural. Porque o valor que nós damos aos cheiros que exalam do corpo só pode ser medido a partir de uma construção simbólica, que tem pouco ou quase nada a ver com a natureza. Afinal, os animais completos, os que são em grande parte o que chamamos natureza, nunca precisaram de perfumes ou cuidados com a higiene pessoal para serem aceitos por seus iguais. Pelo contrário, o cheiro que sai de seus poros carrega os tais ferormônios, responsáveis, entre outras coisas, por comunicar e atrair o parceiro sexual à presença de um indivíduo especial pronto a dar amor, carinho e proteção. Na espécie humana, o suor (ou o cheiro dele), pelo contrário, é sinônimo de desleixo, falta de higiene e dificulta a obtenção de parceiro sexuais. Para homens terem sucesso com os mulheres e as mulheres com os homens, eles devem lançar mão de uma série de artificios (Minâncora, polvilho, limão?) para disfarçar o cheiro do corpo. Os perfumes, nada mais são que simulações de cheiros que não são os humanos. Em outras palavras, quando borrifamos perfumes e desodorantes nas axilas, estamos nada menos que sufocando nossa natureza em nome de um estado inumano.
Então eu levantei a discussão de que o mau-cheiro também é uma construção cultural. Porque o valor que nós damos aos cheiros que exalam do corpo só pode ser medido a partir de uma construção simbólica, que tem pouco ou quase nada a ver com a natureza. Afinal, os animais completos, os que são em grande parte o que chamamos natureza, nunca precisaram de perfumes ou cuidados com a higiene pessoal para serem aceitos por seus iguais. Pelo contrário, o cheiro que sai de seus poros carrega os tais ferormônios, responsáveis, entre outras coisas, por comunicar e atrair o parceiro sexual à presença de um indivíduo especial pronto a dar amor, carinho e proteção. Na espécie humana, o suor (ou o cheiro dele), pelo contrário, é sinônimo de desleixo, falta de higiene e dificulta a obtenção de parceiro sexuais. Para homens terem sucesso com os mulheres e as mulheres com os homens, eles devem lançar mão de uma série de artificios (Minâncora, polvilho, limão?) para disfarçar o cheiro do corpo. Os perfumes, nada mais são que simulações de cheiros que não são os humanos. Em outras palavras, quando borrifamos perfumes e desodorantes nas axilas, estamos nada menos que sufocando nossa natureza em nome de um estado inumano.“[a cultura] tende a absolutizar as suas formas expressivas e as suas regras, até o ponto de quase se transformar numa segunda natureza.”Deu um exemplo e completou:“[esse exemplo que eu citei] tende a ser esquecido na sua qualidade de produto cultural: está tão interiorizado através do processo de socialização que passa a ser sentido como qualquer coisa de natural, ou seja, é assumido como um dado adiquirido, ao ponto de provocar um sentimento espontâneo de repugnância…”*
CRESPI, Franco. “Manual de Sociologia da Cultura”. Lisboa: Editora Estampa, 1997. p. 23.
Clube do Remo e sua difícil luta contra o rebaixamento absoluto.

atletas do remo
O Clube do Remo joga no próximo domingo, dia 12 de abril de 2009, a partida mais importante da sua história centenária. A importância do jogo se deve a circunstâncias que os azulinos talvez preferissem esquecer: se não ganhar, o Remo se afunda na maior crise já vivida pelo outrora chamado Filho da Glória e do Triunfo. O adversário é nada menos que o Paysandu, arquirrival e co-protagonista de um clássico que no domingo será reeditado em sua 700ª edição. Será o RE x PA mais importante da história para o Remo, porque tanto pode ser um fôlego a mais para o Leão se esquivar do fracasso, quanto a última queda rumo ao fundo do poço de uma trajetória cheia de tropeços. Saiba a seguir o que levou o Leão Azul de Antônio Baena a chegar ao degrau mais baixo de sua vida.
O começo do fim foi ainda em 2008, em setembro, quando o Clube do Remo era eliminado prematuramente da Série C do Campeonato Brasileiro, no Acre, pelo Rio Branco, com uma goleada de 3 x 0. O placar anunciava um futuro sombrio: eliminado da Série C, o time paraense estava rebaixado à condição de aspirante à recém-criada Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Para conseguir a vaga na quarta divisão, o Remo precisaria de uma boa qualificação no Campeonato Paraense de 2009. Entre uma competição e outra, o clube mudou de presidente, de técnico, dispensou jogadores, contratou alguns outros e começou a temporada de 2009 com atraso (e com derrota para um time semi-profissional do Amapá), o que encheu de preocupação os torcedores azulinos, que achavam que nada poderia ser pior do que lutar por uma irrisória vaga à quarta divisão nacional, o limbo dos clubes brasileiros. Enganaram-se. Com um começo de campeonato trôpego, o Remo viu sua Série D ameaçada pela ascensão de um time santareno, há muito esquecido no cenário local: o São Raimundo. Na estreia dos dois, um susto: goleada de 5 x 1 do Pantera mocorongo (apelido do time de Santarém) sobre o Remo, em pleno Baenão, casa dos azulinos.

- C. Remo 1 x 5 São Raimundo, Baenão.
O placar, dantesco para os belenenses, anunciava o embate que se prolongaria ao longo de todo o campeonato. São Raimundo e Remo lutariam até a morte pela vaga na Série D. Dono de um campanha razoável, o clube azulino viu suas chances de ser campeão do primeiro turno dizimadas pelo alvinegro santareno nas semifinais, em partida única, no Mangueirão. Empate em 1 x 1 com sabor de vitória para o Pantera, por ter tido vantagem graças à melhor campanha no turno. Ao Remo restou o medo de ficar sem calendário para o segundo semestre e o desprazer de torcer pelo Paysandu na final daquele turno contra os santarenos. Se o bicolor vencesse a taça Cidade de Belém (equivalente ao primeiro turno), como de fato aconteceu, o São Raimundo não dispararia tanto na frente do Remo pela vaga na Série D.
Jogando todas as suas fichas no segundo turno, o Leão mandou chamar Artur, técnico e ídolo azulino da década de 90, consagrado dentro de campo e que já tivera uma passagem vitoriosa pelo clube como treinador, no ano anterior, quando fora Campeão Paraense. Dono de uma identificação única com as cores do clube, Artur não enfrentou dificuldades em encarnar o papel de salvador da pátria azulina, título materializado no apelido que recebeu da torcida e da imprensa: Rei, Rei Artur. Mas não demorou muito para que o rei perdesse sua magestade. Começo tímido, a torcida logo percebeu que, como treinador, Artur ainda tinha muito o que aprender. Um golpe mortal foi desferido pelo ídolo do arquirrival, Zé Augusto, do Paysandu, que durante o último clássico golpeou sua “terçadada”, como ficou conhecido o gol da vitória no RE x PA do dia 22 de março de 2008. 1 x 0 Papão e principio de crise no Baenão.

Zé Augusto: terçadada que selou a vitória no clássico
Com o sucesso do São Raimundo, que jogou todo o segundo turno em casa, com uma campanha praticamente irretocável, não restava ao Remo outra alternativa se quisesse ter algum campeonato oficial a jogar no segundo semestre: ser campeão da Taça Estado do Pará (o segundo turno), para decidir com o Paysandu (campeão do primeiro) a Taça Açaí, que é o equivalente ao Campeonato Paraense, de maneira geral. O título de vice-campeão paraense, nesse caso, já seria o suficiente para garantir o Remo na Série D. Mas só ele. Qualquer outro resultado, seria catastrófico para a história remista. O clube chegou à ultima rodada do returno já classificado, esperando apenas a decisão sobre quem pegaria quem nas semifinais. E aí o destino pregou uma peça: quando as estatísticas apontavam o contrário, a combinação de resultados fez com que Remo e Paysandu se enfrentassem numa das semifinais e São Raimundo e Águia (de Marabá), em outra.
Antes porém que isso acontecesse, o Remo teria pela frente um adversário duríssimo, em outra competição que disputava paralelamente, o Clube de Regatas Flamengo, confronto válido pela Copa do Brasil. Seria o jogo da redenção remista. Embalado com duas vitórias por goleada nas últimas rodadas do estadual, os azulinos sabiam que contra o Flamengo no Mangueirão, teriam casa cheia. Se vencessem, chegariam embalados no clássico contra o Paysandu, teriam mais chances de obter vitória e carimbar metade de seu passaporte à Série D, e espantar de vez o fantasma de não ter um calendário oficial em 2009.
No jogo da última quarta, no entanto, dentro da previsão apenas a presença da torcida. Mais de 40 mil espectadores lotaram o Mangueirão e empurraram o Clube do Remo contra o Flamengo, adversário aparentemente superior. Dentro de campo, o que se viu foi uma inferioridade vergonhosa da parte dos azulinos. Um time desmotivado, apático e sem criatividade, praticamente viu o Flamengo jogar, fazer dois gols e eliminar o Remo a vista de um Mangueirão lotado de torcedores azulinos cabisbaixos e atônitos. O time se mostrava aquém da torcida que fez uma festa maravilhosa para incentivá-lo.

Com a derrota, aumenta a pressão sobre o elenco que enfrenta o Paysandu no próximo domingo, num jogo que é de vida ou morte apenas para um dos lados. Se perder, o Papão sai da disputa do turno, mas ainda espera o vencedor dele para fazer a final do Campeonato, logo em seguida. Se perder ou empatar, o Remo dá adeus ao sonho do título e ao ano de 2009 que se encerra prematuramente, em abril, caso não consiga a classificação. A tarefa remista é inglória. Jogará contra um time completo, que teve um semana a mais para treinar e descansar, jogando pelo empate e tranqüilo, se dando ao luxo inclusive de esperar o adversário e sair no contra-ataque. Além do mais, se contra o Flamengo o Mangueirão era majoritariamente azulino, contra o Paysandu ele vai estar pelo menos metade bicolor, com possibilidade de estar mais bicolor ainda, já que o momento do Paysandu é melhor e o torcedor alviceleste não deve perder a oportunidade de “enterrar” o maior rival, como vem se comentando. Para o torcedor remista, resta a incômoda posição de se equilibrar entre a esperança e o desespero de caminhar rumo ao rebaixamento absoluto.
Independente do que aconteça domingo, dessa história toda fica a certeza de que a massa azulina não merece o time que veste as cores de seu clube. Ficou provado contra o Flamengo que a torcida é grande, apaixonada e não abandona o time nos momentos difíceis. Ficou provado também que as pessoas que administram e jogam pelo Remo não estão à altura dessa torcida, que seu trabalho não respeita o amor dedicado a essas cores por quem grita o nome do clube independente de tudo. Este blog pertence a um bicolor apaixonado e, exatamente por isso, solidário à dor que imagina sofrerem os rivais nesse momento. O que eu vi contra o Flamengo me lembrou o mangueirazzo de 2003, contra o Boca, quando nós bicolores, vimos nosso time cair de pé, também por 2 gols de diferença, para uma equipe que sepultou nossos maiores sonhos. A nossa dor naquela época talvez tenha sido diferente da dor dos remistas hoje. A nós sobrou a certeza de que caímos de pé, lutando, e chegamos tão longe quanto podíamos chegar. A dor remista é melancólica, a vitória representa apenas um estado menos pior do que o atual, muito longe ainda da tradição do clube. Em comum, apenas a fonte dessa angústia: o futebol de nossos clubes. Haverá quem critique a paixão (no sentido de sofrimento) por um clube; haverá quem ache bobagem ou drama desnecessário. Só quem entende o teatro de emoções que se encena cada vez que o árbitro trila seu apito num estádio de futebol, entenderá a dimensão da alegria ou da tristeza de acompanhar os descaminhos de um clube. Nisso, nós, remistas e bicolores somos iguais, em nossa radical diferença. É por isso que de quarta-feira passada até o próximo domingo, não sacaneio, não xingo, não menosprezo remista nenhum em nome de nossa rivalidade clubística.
Até domingo. Domingo, quando nós os enterrarmos de vez com gol do Zé Augusto, levo caixão, cruz e vela, canto, tiro sarro, mando voltar pro chiqueiro, chamo de viado pra baixo. Porque rivalidade é isso e ganhar do maior rival é uma das sensações mais maravilhosas que o futebol pode proporcionar. Empurrá-lo do precipício, então, deve ser mágico.

Bicolores e as cruzes do maior rival, ainda em 2008. História se repetirá?
ATUALIZADO:
Pois é. Não deu. Mangueirão com um público aquém do esperado viu um time apático do Paysandu perder de 2 x 1 para a fraca equipe do Remo. Remo na final do turno contra o São Raimundo de Santarém quem venceu o Águia na semi-final. Os dois brigam pela vaga na Série D.
Quanto mim, além da lágrima caída após o final do apito, sobram os pesadelos constantes com a imagem do Rossini, meia do Paysandu, chutando aquela bola na trave e perdendo o penalty que nos daria um bom resultado no RE x PA. De novo. Rossini já tinha perdido um penalty no primeiro RE x PA do ano. Por mim, apesar de Rossini ser um bom jogador, já pode sair hoje mesmo de Belém, não tem racionalidade nenhum que dê conta de suportar o desespero de perder um penalty em clássico.
Segue a vida.
Meu Sangue Gela Quando Dizem Que Eu Estou Sendo Utópico
Funciona assim: eu critico algum comportamento individual ou coletivo que considero errado ou inapropriado por qualquer motivo, e alguém muito conhecedor do mundo vem me dizer, como se me revelasse uma verdade inelutável: “olha, seu discurso é muito bonito e até está correto, mas no mundo real, na realidade em que nós vivemos, isso não é assim, não”. Eu calo. E a pessoa continua, com o mesmo sorriso indulgente: “todo mundo sabe que na vida real isso não daria certo!”.
E eu fico me sentindo o próprio Thomas More, escrevendo sobre uma ilha inexistente e apenas imaginável, constituída de personagens irreais que vivem situações incoerentes, alheias a qualquer noção de verdade. Ou seja, o que a pessoa quer dizer é que eu sou muito ingênuo para acreditar numa Utopia como a que eu acabei de descrever.
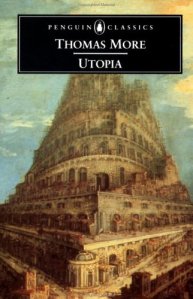
- Utopia – Thomas More
Utopia versus Grandes Objetivos.
A definição de utopia, segundo o senso comum, é uma meta que exige esforços tão grandes para seu cumprimento, que atingi-la é impossível. Assim, utópico é quem espera e crê que o mundo vai se tornar um paraíso sem sofrimentos ou feridas, um lugar de amor, paz e beleza, sem conflitos e perfeito, amanhã, logo que acordarmos para mais um dia de trabalho. Utopia, no entanto, é muito diferente de ter apenas objetivos grandes, como a resolução de problemas complexos, mas que dependa somente de atitudes simples, como a tomada consciência e a reflexão individual.
Por exemplo, diminuir o racismo latente no fazer social da população brasileira é um objetivo grande, enorme até, mas nunca uma utopia, já que é uma ação que depende muito da consciência individual em não repetir atitudes racistas e discriminatórias diariamente, mecanicamente. O simples fato de a pessoa não contar piada de preto e não reproduzir às novas gerações, o discurso racista em embalagem moderna e divertida já é uma atitude que, silenciosamente, combate o racismo. Quem conta piadas racista age como alguém que entrega a uma criança um pacote de veneno para rato dentro da caixinha do Mc Lanche Feliz. O nó da questão é que nem o piadista, nem o ouvinte, sabem que dentro da caixinha há chumbinho e acabam repassando-o por aí dentro de outras embalagens felizes. E o racismo se perpetua, porque a maioria dos racistas não sabem que o são. Diminuir o preconceito, portanto, pode ser simplesmente fazer com que as pessoas percebam que estão envenenando as outras. Um grande objetivo que pode ser alcançado através de (muitas) pequenas atitudes.
Bastante diferente de uma utopia.
O que leva, então, alguém a acusar o outro de estar querendo o impossível, mesmo quando seus objetivos são plenamente realizáveis?
Quem acusa alguém de estar sendo utópico, geralmente tem algumas características:
1) Arrogância intelectual: eu sei como as coisas funcionam, melhor do que você. Se você acha que isso pode ser assim, então você está sendo utópico, porque no mundo real, no mundo que eu conheço melhor do que você, isso nunca daria certo.
2) Dificuldade em desfazer pré-conceitos: eu tenho certeza que as coisas funcionam assim porque eu já pensei o suficiente sobre isso. Se você tem uma opinião contrária à minha, naturalmente deve ter pensado pouco ou visto tudo de uma posição desprivilegiada. Seja como for, eu estou certo e você só está sendo um utópico, coitado!
3) Reflexos apurados: antes que eu possa pensar em um argumento válido, eu vou dizer que você está sendo utópico porque essas suas idéias me parecem muito ingênuas.
4) Preguiça de pensar: como eu já sei que as coisas são do jeito que eu acho que elas são, não adianta nada eu ficar esquentando a cabeça com os argumentos desse ingênuo, vai ser perda de tempo, já que ele está sendo utópico.
5) Visão de mundo limitada / crença de que as coisas sempre foram e sempre vão ser assim: se eu sou assim, então esse tipo de comportamento é o normal. Se na minha casa, no meu bairro e na minha cidade funciona assim, por que achar que no resto do mundo pode ser diferente? Afinal, as pessoas agem, pensam e são sempre da mesma forma, ao longo do tempo e do espaço.
6) Desesperança/Pessimismo: você pode até estar certo, mas nós nunca conseguiremos mudar o estado das coisas. Elas são assim e pronto, o homem é imperfeito e pronto, os políticos são ladrões e pronto, as pessoas vão sempre querer matar as outras levianamente e pronto. Melhor ir fazer alguma coisa útil do que ficar perdendo tempo pensando nisso.
Claro que essas características se imbricam e nunca aparecem sozinhas, tampouco são auto-excludente nem apanágio de todos que acusam os outros de serem utópicos. Mas em geral, um ou outro desses pecados está presente.
A necessidade da reflexão continuada.
Talvez um dos grandes problemas de nosso tempo seja a falta de tempo para pensar. Há muitas pessoas que não são lá muito abertas a novas opiniões, e muito menos a opiniões que divergem se seus conceitos pré-estabelecidos. Acredito que isso se deva ao fato de acharem que já sabem o bastante das coisas, que os pontos de vistas que já conheceram são suficientes para ter uma noção completa e fechada sobre o mundo e tudo mais. Isso é normal e justificável: ninguém precisa saber tudo de uma vez. Não tomar uma posição (mesmo que limitada) seria tender para ignorância absoluta, ficar em cima do muro sempre. Mas a grande sacada, o grande pulo do gato, a grande lição que se tira da pedagogia da vida é ter a certeza que suas certeza podem ser derrubadas a qualquer momento. E estar preparado (e aberto) a isso. Se você não souber que você é um ser em mutação (uma metamorfose ambulante, como já quiseram) pode pedir pra vida parar e descer: continuar não será muito proveitoso. Mais do que nunca, tenho a certeza de que estamos andando sobre esse mundo para nos ensinar e aprender com os outros, crescer na diferença, fazer uma viagem única de auto-conhecimento através desses seres imperfeitos, que somos nós. Claro que essa é uma certeza que pode ser desfeita a qualquer momento, basta que você, leitor, tenha paciência, me pegue pela mão, e me conte o que você acha sobre tudo isso. Sou todo ouvidos e adoro que discordem de mim.
Só não cometam o desfavor de dizer que eu estou sendo utópico, porque isso seria chamar de ingênuo todo o esforço que eu faço pra me entender, entender vocês e as nossas relações.
E antes de terminar, um convite: se o mundo que queremos não é o mundo que temos, que tal tentar intervir? Se não formos nós, quem será? Temos, a nosso favor, uma arma muito eficiente: essa que vos fala, a palavra. Mais terrível que muitas baionetas e canhões, ela é capaz de vencer guerras sem derramar sangue. Para os pessimistas fica um conforto: em quinze minutos, com um texto honesto e bem escrito (como esse), você pode se fazer ouvir e influenciar o fazer social de alguém, mesmo que seus poucos leitores sejam alguns colegas da rua, da faculdade, do colégio ou pessoas que caiam de pára-quedas no seu blog, vindo atrás de outras coisas. De repente você até ganha uma batalha silenciosa, numa guerra maior, de todos nós.
E sem utopias.
Segredos
 Sempre tinha sido assim. Gabriela esperava eu me deitar e alinhava o rosto na fronteira entre meus pescoço e ombro, deitava um braço em algum lugar invisível entre nós dois e outro a passear pelas extremidades do meu corpo, vez ou outra seus dedos beijando minha boca. E ficávamos olhando as estrelas no céu e comentando que as nuvens roxas pareciam assustadoras, que se chovesses não moveríamos um centímetro dali e inventaríamos desculpas por estarmos molhados uma hora daquelas. De vez em quando Gabriela apontava a piscina e se admirava com a dança na superfície da água, vento e água vento e água e o reflexo das luzes ao longe, até que ela pegava um punhado de gotas e espargia sobre algum canto do nosso amor, nos fazendo querer cair e sonhar naquele oceano que era a piscina da casa dela. E num instante, eu segredava que aquele lugar só não era melhor que nosso cantinho ideal inexistente: um quarto redondo, sem paredes, macio e pequeno, o suficiente para que pudéssemos nos ser. E dizia, num sussurro que não precisávamos de mais nada e ríamos daquelas pessoas nos prédios altos, alheias a tudo, donas de tudo, mas ignorantes de amor. De tudo isso, restava outra certeza: Gabriela conhecia todos os meus segredos, ria da loucura que me consumia, contava cada curva de meus senões, sabia quando e por que eu chorava, conhecia que lado do meu corpo era maior que o outro, o que fazia eu odiar ou amar alguém, todas as minhas bobagens e preconceitos. Sabia tudo e queria saber mais. Só não sabia o prazer que eu tinha em ela saber tanto de mim, na mesma intensidade do desejo de se conhecer em função do outro… ela era o livro em que eu escrevia e lia a minha história, e quando Gabriela falava de nós, quando brigava, quando brincava, quando apontava na minha cara e dizia que eu estava errado, era como se recitasse um verso de um poema apócrifo sobre mim. Cada segredo revelado era um tijolo do muro que dizia em letras garrafais (rodeadas por flores, bonecas, sóis e todos os desenhos que Gabriela adorava fazer em vez de ouvir o que as pessoas lhe falavam): EU NUNCA VIVERIA SEM TI. E hoje, hoje estático, sem vida, sem água, sem nuvens roxas e os prédios que pareciam cair sobre nós no quintal de Gabriela, hoje que absolutamente vivo sem ela, hoje que provei ser possível viver com a sensação de estar incompleto (como é possível andar de bicicleta sem sentir o vento no rosto), hoje só me resta uma dúvida: o que Gabriela estará fazendo com os meus segredos?
Sempre tinha sido assim. Gabriela esperava eu me deitar e alinhava o rosto na fronteira entre meus pescoço e ombro, deitava um braço em algum lugar invisível entre nós dois e outro a passear pelas extremidades do meu corpo, vez ou outra seus dedos beijando minha boca. E ficávamos olhando as estrelas no céu e comentando que as nuvens roxas pareciam assustadoras, que se chovesses não moveríamos um centímetro dali e inventaríamos desculpas por estarmos molhados uma hora daquelas. De vez em quando Gabriela apontava a piscina e se admirava com a dança na superfície da água, vento e água vento e água e o reflexo das luzes ao longe, até que ela pegava um punhado de gotas e espargia sobre algum canto do nosso amor, nos fazendo querer cair e sonhar naquele oceano que era a piscina da casa dela. E num instante, eu segredava que aquele lugar só não era melhor que nosso cantinho ideal inexistente: um quarto redondo, sem paredes, macio e pequeno, o suficiente para que pudéssemos nos ser. E dizia, num sussurro que não precisávamos de mais nada e ríamos daquelas pessoas nos prédios altos, alheias a tudo, donas de tudo, mas ignorantes de amor. De tudo isso, restava outra certeza: Gabriela conhecia todos os meus segredos, ria da loucura que me consumia, contava cada curva de meus senões, sabia quando e por que eu chorava, conhecia que lado do meu corpo era maior que o outro, o que fazia eu odiar ou amar alguém, todas as minhas bobagens e preconceitos. Sabia tudo e queria saber mais. Só não sabia o prazer que eu tinha em ela saber tanto de mim, na mesma intensidade do desejo de se conhecer em função do outro… ela era o livro em que eu escrevia e lia a minha história, e quando Gabriela falava de nós, quando brigava, quando brincava, quando apontava na minha cara e dizia que eu estava errado, era como se recitasse um verso de um poema apócrifo sobre mim. Cada segredo revelado era um tijolo do muro que dizia em letras garrafais (rodeadas por flores, bonecas, sóis e todos os desenhos que Gabriela adorava fazer em vez de ouvir o que as pessoas lhe falavam): EU NUNCA VIVERIA SEM TI. E hoje, hoje estático, sem vida, sem água, sem nuvens roxas e os prédios que pareciam cair sobre nós no quintal de Gabriela, hoje que absolutamente vivo sem ela, hoje que provei ser possível viver com a sensação de estar incompleto (como é possível andar de bicicleta sem sentir o vento no rosto), hoje só me resta uma dúvida: o que Gabriela estará fazendo com os meus segredos?
Eunice
Eunice perdeu o pai muito jovem, ela e o pai. Soubemos da morte sem ela saber que sabíamos, ou sabendo, mas não fazendo parecer. Ela chorava e os que a conheciam consolavam e diziam pra ela ser forte, que uns vão pra outros virem. Mas Eunice não parecia entender ou não parecia aceitar e era linda como o céu, como soem ser as princesas da nossa infância. Cabelo amarelo, olho verde, uma européia nos trópicos a zombar da inveja das mestiças, latinas de índias e negras, normais, babando a anormalidade de Eunice. Ela não falava, ou falava pouco, só o necessário pra nos apaixonar, capricho de princesa. Era o grande amor da vida do meu amigo e, a despeito de nunca termos trocado uma palavra com ela, Eunice era o centro de quase todas as nossas conversas. Com o tempo foi ganhando uma beleza triste, até desaparecer por completo, e virar normal. Ou isso, ou crescemos e deixamos de acreditar no amor platônico antes mesmo de conhecer Platão. Reencontrei Eunice no lugar menos imaginável possível: num estádio de futebol, multidão concentrada nos destinos de uma pelota e nossos destinos se escrevendo numa fileira de arquibancada. Ela veio em minha direção, segurando a mão de um namorado (um idiota desprezível, pitboy, músculos a mostra na ausência da camisa, querendo trocar qualquer coisa por dez minutos de confusão) e me ignorou completamente. Eu a fiz que não vi. Talvez porque eu saiba mais do passado dela do que ela gostaria, e ela menos do meu presente do que deveria. E versa-vice.
Quando o mundo não foi feito pra você.
(cenas de um blog diarinho e alguma reflexão)
Relato literário de uma queda idiota.
Estava tudo terminando bem. Reunião com os amigos do ex-curso finda, restava imprimir um ofício a ser entregue na Faculdade impreterivelmente no dia seguinte. Era começo de noite, mas a Universidade em fim de férias, já fechava suas portas. Difícil achar uma impressora disponível. O bloco B, não havendo cybercafé, era inútil. Cyber do bloco D, já fechado. O mesmo com o do bloco F (do futuro curso). A última opção de impressora era uma casa azul, meio que entre a praça de alimentação e a biblioteca, único lugar do mundo cujo acesso não se dava por uma rampa segura como nos outros lugares. Aqui se devia desviar de uma enorme vala, 1 metro de profundidade, por 40 cm de largura. Um cálculo apressado atesta: uma passada mais longa e você está do outro lado.
Acresce que chovia (como no começo das memórias póstumas). Chovia e era escuro, as lâmpadas amarelas se escondendo atrás de suas próprias sombras. O colega do lado repetia o itinerário do dia seguinte, confirmando que eu não precisaria voltar à Universidade amanhã: a gente imprime o negócio hoje, amanhã fulana vem entregar, bem cedinho fica tudo certo. E eu calculando aquele metro sobre o abismo e quantidade de esforço necessário para chegar à casa azul. Perna esquerda no apoio do lado de cá, perna direita sobe, alcança o chão do outro lado, corpo transfere o peso todo para a perna direita, o corpo vai junto, descrevendo sua parábola no ar quase frio. Até que…
Um detalhe foi esquecido. Um detalhe que faria toda a diferença, que transformaria aquele gesto de rotina, feito tantas e tantas vezes inconscientemente, em objeto de vil literatura. Dessa vez, não havia pedra no meio do caminho, antes houvesse. Havia um degrau, desses pequenos, que se não houvesse também não fariam diferença. Mas havia o degrau, e fez toda a diferença. De repente o pé direito pestanejou, hesitou, pisou metade na parte alta do degrau, metade no chão abaixo dele, numa diferença de três, no máximo quatro centímetro. No mesmo momento em que oitenta quilos de gente se atiravam ao vazio e confiavam inteiramente naquele pé, que pisou em falso. Confiança abalada. O pé tombou para o lado, desequilibrado pelos oitenta quilos, pelos três, quatro centímetros, pela gravidade inexorável, pela geometria do acaso. O corpo respondeu e empurrou o pé, já torto, dobrado sobre si mesmo, contra o chão, torcendo-o, arrancando-o de seu estado de simetria consigo mesmo. Antes de a dor explodir, ainda havia uma ameaça a ser combatida: aquele metro de vala chamava eroticamente o corpo, o pé, o mundo, a vida, a se deitar com ele em sua profundeza. E o corpo obedeceria dolorosamente não fosse a prontidão de um braço solto, desesperado, a se agarrar no primeiro pedaço de matéria que pudesse restabelecer o equilíbrio daquele soneto bêbado, cuja emenda impediu que o estrago fosse ainda maior.
Desfeito o perigo da vala, restava a dor. E a dor veio, sem pedir licença, arrastando todo resquício de sobriedade que corajosamente se mantinha de pé. E aquele pé torto, caído sem vida para o lado, fez notar a presença de algo fora do lugar, dando o alarde mais convincente que podia: dor aguda, seca, desesperada, que tornava inútil qualquer tentativa de ignorá-la, daquelas que você deseja que o mundo acabe pra ela acabar junto, cujo único consolo é o de que ela, um dia, vai passar.
Porque o amor tece dor. E vice-versa.
Existem várias maneiras de descrever uma torcida de tornozelo. Eu escolhi essa. É possível, afinal, tirar algo de positivo da dor. Nem que sejam palavras pretensamente bem encaixadas umas às outras. Os quatro parágrafos acima, se resumiriam numa pobre linha, num post diarinho, que eu quis evitar. Afinal, tudo é uma questão de fazer amor tecer dor, ou vice-versa. Acontece que, de fato, torci o tornozelo de uma maneira bem idiota. E o que eu pensei que fosse uma lesão simples, dessas que passam de uma hora pra outra sem maiores cuidados, na verdade era uma lesão de grau 2 pra 3, numa escala cujo ponto máximo é 3. Isso foi o que me informou a traumatologista que me tratou. Apesar de não ter quebrado nenhum osso, aparentemente houve rompimento de algum ligamento, já que o negócio inchou imediatamente após o acidente.
Para salvar o post.
A dotôra também imobilizou minha perna por uns 8 dias, condição que me faz viver situações chatas e que permite algumas reflexões. Vamos a elas, pra salvar o post:
1) Com uma das pernas quase completamente inútil, não posso apoiar meu corpo no chão, o que me impede de praticar uma das ações mais naturais e velhas que a humanidade já teve a idéia de inventar: andar sobre duas pernas. Quem tem duas pernas funcionando perfeitamente tem dificuldades em medir o problema que alguém que não as têm enfrenta para simplesmente se locomover do ponto A ao ponto B. Quem tem duas pernas sequer pensa que está fazendo algum esforço em levantar do sofá e ir preparar o almoço. Aliás, a impressão que temos é o que o esforço está apenas nos extremos: em levantar do sofá e preparar o almoço. O caminho que nos leva de um ponto a outro, da sala à cozinha, caminho curto, 30 metros no máximo, raramente é levado em conta. Pois bem, quem tem uma perna a menos, amigo, pena, mais pena mesmo, pra ir do ponto A ao B, mesmo que a distância entre eles seja curta. Não consigo nem imaginar a dificuldade de alguém que não tenha nenhuma das duas pernas disponíveis. No meu caso, fazer qualquer deslocamento que exija uma postura ereta, só é possível caso eu me equilibre e vá pulando e uma perna só. Essa atividade é de risco, já que potencializa as possibilidades de um acidente mais grave. Mas infelizmente é a única forma de eu me movimentar, já que não possuo muletas ou cadeira de rodas, e tampouco pretendo passar esses oitos dias numa cama ou numa cadeira.
2) Fazer coisas simples do dia-a-dia se torna um verdadeiro quebra-cabeças, em que você fica matutando alguns minutos antes de começar uma tarefa que antes você fazia sem pensar muito. Por exemplo, fritar um ovo. Alguém já pensou em fritar um ovo, numa perna só? Ou arrumar a própria cama? Subir num banco pra alcançar um livro que tá na parte alta da estante? Se servir do almoço que tá no fogão e ir pulando até a mesa, com o prato na mão? Brincar de saci é legal quando você é criança. Quando é a única forma de você fazer as coisas, se torna bem decepcionante. Tomar banho é um problema. Além de ter que se equilibrar numa perna só, ainda há a recomendação expressa da dotôra de não molhar a calha e os esparadrapos que envolvem a perna direita, sob pena de umedecê-los e torná-los ambiente ideal para a proliferação de fungos, bactérias e todo tipo de coisa-feia-que-come-a-pele-da-gente. Por conta disso, tome banho num banquinho, com a perna ruim para o alto (pra não molhar) e faça o possível pra não destruir essa parafernália acidentalmente ao tirar uma cueca ou uma bermuda. Não consegue alcançar o xampu, já que você está sentado a prateleira onde ele se encontra está a pelo menos um metro do alcance máximo de seu braço esticado? Paciência, levante-se, vá pulando numa perna só sobre chão molhado e ensaboado (eu vou repetir, pra ficar bem claro: MOLHADO e ENSABOADO) e pegue o xampu, antes que você caia e torne sua situação mais lametável ainda.
E se o mundo não foi feito pra você?
Minha dificuldade de locomoção é temporária e, de certa forma até branda, porque apesar de não me aconselharem pisar com o pé doente, sob risco de agravar a lesão, pelo menos a perna está ali, o que me permite ter maior equilíbrio do que se ela não estivesse. Ainda assim, a situação causa transtornos. Agora pensemos em quem tem dificuldade de locomoção permanente e mais séria que a minha, e tem que se contentar com a triste constatação de que o mundo não foi feito para si. Além dos entraves que existem na maioria das casas (aparentemente não são muitos os arquitetos que se preocupam com os portadores de deficiência), existe o mundo lá fora, esse sim, quase completamente incompatível com quem tem dificuldade de locomoção. Eu deveria ir à UFPA esses dias e fiquei seriamente pensando nos obstáculos que alguém que se locomova com muletas ou cadeira de rodas teria, fazendo as mesmas coisas que eu faço todo dia lá, sem pensar muito.
Ônibus seria o primeiro deles. Eu já vi alguns veículos adaptados a pessoas com deficiência circulando por aí, mas sinceramente, nunca os vi parando no ponto em que eu geralmente pego ônibus, tampouco os vi funcionando. Nas poucas vezes que vi cadeirantes no coletivo, eles sempre precisaram da ajuda de alguém para subir ou descer: primeiro alguém o carrega no colo e o coloca num banco do ônibus, depois essa mesma pessoa desce, desmonta a cadeira e a deposita junto da pessoa com deficiência, que vai ter que contar com a solidariedade de alguém, quando chegar o seu destino, e o processo tiver que ser repetido. Isso, claro, caso o motorista tenha paciência de esperar tudo isso acontecer, sem desrespeitar o direito mais elementar de todo o cidadão: o de ir e vir.
Passado o ônibus, a locomoção dentro da UFPA também seria um problema, embora menor: as calçadas novas, construídas mais ou menos na época em que eu entrei lá (2007), aparentemente respeitam as normas internacionais de acessibilidade, já que privilegiam sempre rampas em vez de degraus, às vezes os dois. Mesmo assim, consigo pensar em pelo menos um ponto no meu itinerário diário (além daquele em que eu caí, que seria intransponível para um cadeirante) que está obstruído por pedaços de madeira, fixos, que dificultariam bastante a passagem de rodas. Na biblioteca, também, seria impossível chegar ao segundo andar com cadeira de rodas, já que o único acesso que eu conheço é feito através de escada, e eu não creio que haja algum elevador ali, e muito menos que funcione. Também, em todos os prédios administrativos dos cursos e faculdades que eu já visitei, você só consegue ter acesso aos andares superiores por escadas. Mas a principal dificuldade que eu consigo imaginar para alguém que tenha problemas de locomoção é almoçar no Restaurante Universitário. Aliás, equilibrar o bandejão, os talheres, e o copo de água, desviando das filas e das mesas mal dispostas, que impossibilitam um fluxo perfeito dos comensais, mesmo pra quem tem dois braços e duas pernas perfeitas é difícil. Imagina sem elas, numa cadeira de rodas ou sobre muletas. Nem todo mundo fez curso pra garçom ou equilibrista. Não me acho capaz de almoçar no RU sozinho, no estado em que eu estou.
E daí?
Essa sensação de incapacidade também deve se abater sobre pessoas portadoras de deficiência física, que constatam diariamente que o mundo não parece ter sido construído pra elas. Projetamos nossas coisas – espaços, sistemas, ocasiões etc – pensando em quem tem tudo certinho, simétrico, perfeito. E quem não tem, como fica? Nunca pensamos nas minorias, porque elas nos são invisíveis. Não consigo lembrar de nenhuma, nenhuminha ocasião em que eu tenha visto algum portador de deficiência física na fila do RU ou admirando a paisagem do rio que circunda a UFPA (porque mesmo aquela orla apresenta muitos obstáculos) e olha que eu já estudo lá há uns dois anos. A razão disso não é que portadores de deficiência não existam ou existam em número insignificante. A explicação é que muitos, olhando para o mundo lá fora e todos os seus obstáculos, devem agir como eu, que fico retardando a hora de tomar banho. Preferimos deixar pra depois, preferimos não sair de casa, não passar por todos esses problemas, não ser visto como diferente, não ser humilhado, mal-tratado, por tentar levar uma vida normal, como todo mundo.
O ciclo da invisibilidade das pessoas com deficiência.
Em vez disso, muito coerentemente, muitas pessoas com deficiência preferem levar uma vida alternativa, reclusa, já que, pelo menos em casa, elas podem adaptar o espaço que precisam percorrer, mesmo que grosseiramente. E se elas ficam em casa, nós, os “normais”, não as vemos, e nunca pensamos na existência delas, razão por que nunca projetamos nossas coisas pensando nelas. É preciso alguém vir reclamar de uma escada, de um degrau, de um anúncio, e pedir uma rampa, um texto em braile, qualquer coisa pra tornar o mundo mais acessível a quem tem dificuldade de se encaixar nele. Até que isso aconteça, completa-se um ciclo de invisibilidade: o mundo não se adapta para receber as pessoas com deficiência, elas não saem de casa, o mundo, crendo que não existem, continua sem se adaptar a elas…
E eu com isso?
Quanto a mim, vou seguir as orientações da dotôra e voltar logo às minhas atividades normais. Com o medo de ficar pra sempre suportando essa lógica do “cada um por si e Deus por todos”.
Bom filho à casa torna
Juan Antonio Alvarez foi treinador do Paysandu na década de 60. Foi sob o seu comando que a esquadra alvi-celeste conquistou uma de suas maiores glórias, imortalizada no hino informal que toda torcida conhece e canta: vencer o Penãrol por 3 x 0, na Curuzu em 1965. Se “até o Penãrol veio aqui pra padecer”, Juan Alvarez veio a Belém para ser feliz. Pegou um time desmotivado na quase lanterna de um campeonato paraense, e o fez ser campeão. Tri-campeão. Uruguaio, havia sido goleiro do Nacional de Montevidéo e nunca em sua carreira vencera o arqui-rival Penãrol. Nunca, até aquele 18 de Julho de 65, quando um ex-derrotado uruguaio comandou um time (cujo nome é o de uma cidade uruguaia), e o levou a uma vitória incontestável ante o maior clube do Uruguai de então. Juan Alvarez se dizia eternamente grato ao Paysandu por proporcionar a ele a felicidade de vencer seu maior rival. A torcida bicolor, por sua vez, será eternamente grata a este homem que ajudou a construir a história do nosso amado clube, clube que ele continuou o amando mesmo longe da Curuzu, de volta ao Uruguai.
Dia desses, soube que a filha de Juan Alvarez, Amparo, mandou um e-mail para a diretoria do Paysandu. Transcrevo-o em tradução livre:
“Senhores diretores do querido Paysandu, Lhes estou enviando este e-mail para me comunicar com os senhores. Primeiro, me apresentar e lhes dizer que sou a filha de Juan Alvarez, Amparo. Talvez se lembrem ou já tenham escutado falar de meu pai. Uma das histórias do clube é de quando ganharam o Peñarol do Uruguai e lhes tiraram a invencibilidade. Meu pai era o técnico. Ele, hoje falecido, me deixou a herança do amor por este time e essa cidade tão amada por ele. É por isso que quero pedir-lhes autorização para depositar suas cinzas no campo da Curuzu, que era aonde ele mais queria voltar. Espero estar dirigindo-me às pessoas corretas para esse pedido. Espero ter uma resposta favorável e que marquem uma data para eu poder viajar. Sem mais e com um apertado abraço, mais uma fã do nosso grandioso Paysandu e de sua bendita terra e de Nossa Senhora de Nazaré, Amparo.”
É possível imaginar, mesmo de longe, o tipo de sentimento que leva alguém a expressar aos filhos o desejo de voltar, depois de morto, ao lugar onde mais foi feliz. Quem sabe o velho técnico não tinha esperanças de reencontrar a felicidade que o gramado esburacado da Curuzu um dia lhe concedera? É possível imaginar o tipo de lembrança que aqueles alambrados gastos, aquelas quatro linhas apagadas tão familiares a nós, bicolores, remetiam ao velho em seu exílio às avessas. Será, talvez, o mesmo tipo de lembranças que eu terei quando o velho for eu, e não mais puder acompanhar o time? Seria o mesmo tipo de lembranças que teve meu avô, bicolor apaixonado, que morreu acompanhando o clube apenas pela televisão? A idéia de voltar no tempo, de ter uma nova oportunidade, de reviver glórias do passado é universal e atemporal. Há algo de universal nas cinzas de Alvarez. O desejo de estar sempre perto de quem se ama, e não poder. O desejo de se juntar fisicamente à grama do estádio, onde a sua paixão clubística ficará eternizada, já que enquanto vivo lhe era impossível. Quando o objeto de nosso amor é inacessível nos resta a esperança de ser feliz em outro plano.
Como torcida fiel que somos, torceremos agora para que Alvarez esteja feliz em seu outro plano e para que a diretoria do clube autorize a união desse bicolor fiel a seu amor distante e jamais esquecido. Ele terá de novo sua chance de derrotar o imbatível Penãrol e nós teremos a oportunidade de nos encontrar outra vez com esse querido bicolor. Bem vindo de volta, professor!
Paissandu, o campeão carioca de 1912
 Poucos bicolores sabem que o mais importante clube de futebol do norte do país tem um homônimo no Rio de Janeiro. O Paissandu Atlético Clube, fundado em 1872 com o nome de Rio Cricket Club, foi um dos primeiros clubes a trazer para o Brasil a prática organizada de esportes, que no século 19 era muito comum na Europa. Criado por ingleses residentes na então capital do Império, o Rio Cricket Club, como o nome sugere, se dedicava principalmente à prática do críquete, esporte muito parecido com o beisebol, e bastante difundido na Inglaterra.
Poucos bicolores sabem que o mais importante clube de futebol do norte do país tem um homônimo no Rio de Janeiro. O Paissandu Atlético Clube, fundado em 1872 com o nome de Rio Cricket Club, foi um dos primeiros clubes a trazer para o Brasil a prática organizada de esportes, que no século 19 era muito comum na Europa. Criado por ingleses residentes na então capital do Império, o Rio Cricket Club, como o nome sugere, se dedicava principalmente à prática do críquete, esporte muito parecido com o beisebol, e bastante difundido na Inglaterra.
Em 1880, o Rio Cricket Club mudaria sua sede para um terreno localizado na rua Paysandu, no centro do Rio de Janeiro, terreno pertencente ao Conde d’Eu, razão pela qual a Princesa Izabel, sua mulher, frequentemente fazia parte da assistência dos eventos no clube. Com a mudança de endereço, o clube mudaria de nome, em homenagem à rua onde se localizava: nascia assim o Paysandu Cricket Club que, mais tarde, seria o Paysandu Atlhetic Club, nome que, com adaptações lingüísticas, carrega até hoje.
Como um clube criado e freqüentado por ingleses, o Paysandu se destacava em esportes que no começo do século eram especialidade britânica: o já citado críquete, o bolws (uma espécie de bocha), o tênis e… o football. Não se engane: os primeiros e melhores jogadores de futebol do começo do século passado eram ingleses e os brasileiros tinham de se contentar em tentar aprender (muitas vezes, apenas olhando, já que o football era esporte para rico). Goalkeepers, half-backs, forwards e os demais membros do team, desfilavam pelos fields e grounds cariocas, sempre sob o olhar atento do referee. O Paysandu, com a fleuma e o charme ingleses, foi campeão carioca de 1912, conquistando a taça Colombo.
Com a popularização do “esporte bretão”, o Paysandu, que tinha entre seus membros os estrangeiros mais destacados e mais ricos da sociedade da então capital federal, foi perdendo espaço e habilidade com a bola nos pés. Aos poucos os brasileiros iam se tornando melhores que os ingleses, os pobres melhores que os ricos, os negros melhores que os brancos, e o Paysandu não experimentou a mesma abertura social e étnica em seus quadros atléticos que experimentaram, por exemplo, Flamengo e Fluminense, só pra ficar em dois dos mais elitistas clubes cariocas do começo do século. E foi se tornando menos expressivo no football a cada campeonato, até que, por fim, deixou de praticá-lo oficialmente.
Mais recentemente na segunda metade do século 20, o Paissandu se mudou de novo, mas manteve o nome dado em homenagem à antiga sede. Hoje, um clube frequentado por estrangeiros ricos adeptos de esportes geralmente desconhecidos no Brasil, elitista e inexpressivo no futebol, o Paissandu carioca guarda de semelhante com seu primo do norte, apenas o nome mesmo. E talvez as cores, branco e azul (embora um azul mais escuro e menos bonito que o celeste)